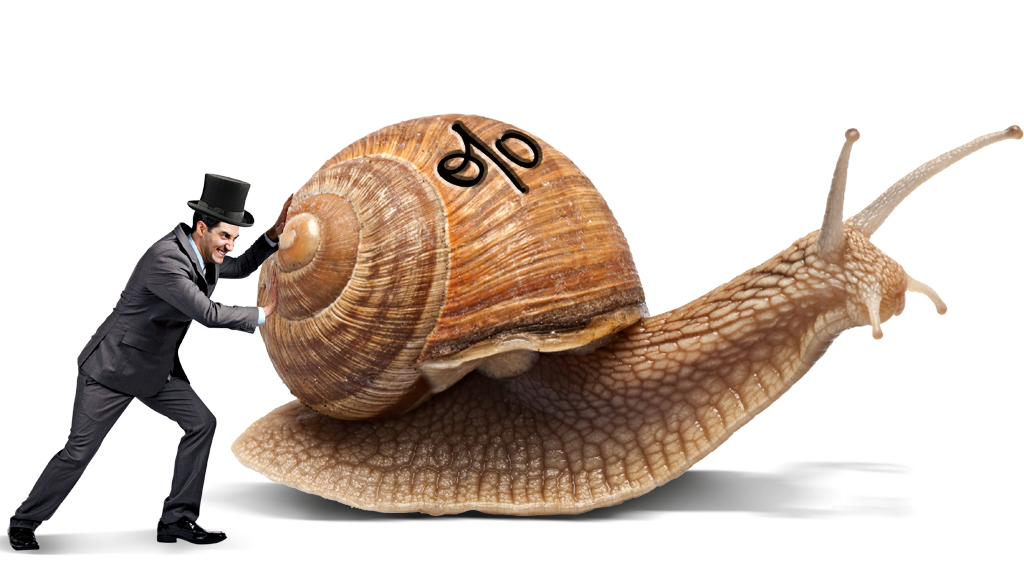10/02/2017 - 19:00
Juro, no Brasil, é alto demais. Isso vale para a taxa referencial Selic, definida pelo Banco Central (BC) e hoje em 13% ao ano. E vale mais ainda para o spread bancário, o percentual que teimosamente se intromete entre o que os bancos pagam para quem neles investe, e cobram de quem deles toma dinheiro emprestado. No Brasil, o spread é um dos mais altos do mundo. Em dezembro de 2016, a média era de 22,6 pontos percentuais, segundo o BC. Por si só elevadíssima, essa cifra chega ao absurdo em casos como o dos créditos pessoais.
Excluindo os empréstimos consignados, a média entre 2011 e 2016 ficou em 83,7% ao ano. É alto, e precisa cair. “Reduzir o spread permite que a economia seja mais eficiente e mais voltada para a produtividade, que é o cerne do crescimento de um país”, disse Ilan Goldfajn, presidente do BC, em um seminário sobre o assunto em Brasília, na terça-feira 7. Roberto Setubal, presidente-executivo do Itaú Unibanco, concorda. “O spread no Brasil é mais alto do que no resto do mundo”, disse ele, ao divulgar os resultados de 2016.
A unanimidade, porém, se esvai sobre a forma de reduzir essa gordura. Há dois suspeitos habituais para ela. O primeiro é o governo, que cobra impostos elevados, gasta mais do que arrecada, vive tomando dinheiro emprestado e torna o capital escasso. O segundo são os bancos. São poucos. Sem contar o BNDES, os cinco maiores, dois deles estatais, respondem por 92% dos empréstimos. Há outros cúmplices, porém. Dois ex-presidentes do BC, Armínio Fraga e Gustavo Loyola, apontam a inadimplência e a tolerância com os maus pagadores como causas importantes para o encarecimento do crédito.
“A insegurança jurídica para quem empresta eleva o risco de inadimplência”, disse Fraga, que presidiu o BC entre 1999 e 2002. “O spread é um seguro que o banco cobra para correr esse risco”, afirma Setubal. Os números do BC mostram isso. O seguro contra calotes representa 53,5% do spread. Os impostos somam 15,8% e os lucros, 23,8%. Para Fraga, a redução chegará mais cedo não só pelo aumento da segurança, como também pela maior oferta de informações sobre os devedores. “É difícil manter um oligopólio quando há transparência dos dados”, diz.
Em sua gestão foram publicados os primeiros estudos oficiais sobre o spread. Segundo ele, só mostrar os números melhorou a situação. “Havia uma percepção, correta, de que o dinheiro era caro, mas não se sabia quanto. A divulgação gerou um debate que mobilizou a sociedade.” Outro fator que entra nessa conta são os subsídios cruzados no sistema bancário. Funciona assim: metade dos empréstimos concedidos às pessoas físicas são financiamentos imobiliários, cuja fonte de recursos é a caderneta de poupança. As taxas são muito inferiores às de outras linhas.
No caso das empresas, a situação é análoga: metade do valor total concedido são empréstimos via BNDES, distribuídos desigualmente pela economia. “Há diversos subsídios cruzados, em que uma parte dos tomadores tem acesso a dinheiro barato, e todos os outros têm de pagar muito mais caro por isso”, diz Loyola. Goldfajn sintetiza o problema com uma dose de ironia. “Metade do crédito no Brasil funciona no regime de meia entrada.” Segundo ele, existem vários segmentos na economia que são beneficiados por essa situação. “Quase todos os subsídios têm justificativas, e quase todas as justificativas são nobres”, diz ele. “Mas isso é um benefício e nossa percepção, incorreta, é que esses benefícios não têm custo.”
Porém, mesmo invisíveis, esses custos estão longe de ser imperceptíveis. São sentidos na taxa do cheque especial e na do cartão de crédito, e nos percentuais salgados do capital de giro e do desconto de duplicatas. O BC já está agindo para corrigir essa distorção. Segundo Goldfajn, as mudanças nos cartões de crédito anunciadas no fim de 2016, que visaram a um aumento da concorrência no setor, são o começo de um processo para facilitar o acesso ao crédito e reduzir seus preços. No entanto, o próprio Goldfajn é conservador. “O spread vai cair, mas eu não me arrisco a prever quando; só sei que não é para já.”